“Dois excessos: excluir a Razão, admitir apenas a Razão.” – Blaise Pascal
Vou aqui referir-me ao documentário que a RTP exibe sobre a “Guerra de África”, ou a “Guerra Colonial”, aka “Guerra do Ultramar”, aka “Guerra da Independência”, aka “Guerra de Libertação Nacional”, coordenado pelo jornalista Joaquim Furtado, relacionando-o com uma citação de Francisco Noa no seu livro “Império, Mito e Miopia” (Moçambique como invenção literária), sobre a literatura produzida em Moçambique durante a Era colonial:
“O desconstrucionismo, que tem as suas raízes nas suspeitas epistemológicas de Marx, Nietzsche, Freud e Heidegger, ao expandir a sua reflexão para além do domínio do lógico, para além, portanto, da esfera totalizante da Razão centrada no sujeito, concorre, segundo Habermas, para remover os andaimes ontológicos que a filosofia erigiu ao longo da sua história. Significa, por conseguinte, deslegitimar a modernidade enquanto certificação da hegemonia da racionalidade. Afinal, a pós-modernidade representa, acima de tudo, o processo de desacreditação das grandes narrativas da modernidade, sejam elas especulativas ou de emancipação.” – Francisco Noa, “Império, Mito e Miopia”
Antes de mais, vamos à “tradução” disto em conceitos que toda a gente entenda, antes de avançar na citação.
O desconstrucionismo é uma corrente filosófica que teve raízes em Nietzsche (como teve raíz em Nietzsche a maior parte das hecatombes sociais do século XX, na medida em que ele foi o fundador do antropocentrismo filosófico moderno que deu origem ao marxismo-leninismo, ao nazismo, ao maoísmo e a outros “ismos”), mas que foi fundamentado por Heidegger – um outro alemão, que estudou num seminário para ser Padre e que acabou por se tornar num oficial do exército nazi.
Na minha opinião, Freud tem muito pouco a ver com isto, e a sua lógica analítica está pouco relacionada com filosofia e com a política, mas essencialmente com o método científico.
Em termos correntes e ordinários, basicamente o que desconstrucionismo faz é a desmontagem de um texto, retirando do contexto palavra a palavra, na tentativa de desconstrução das ideias implícitas expressas originalmente, no sentido de que, com as mesmas palavras, se possa encontrar um (ou mais que um) sentido ideológico diferente no conjunto de palavras que compõem esse texto.
“A História da sociedade até aos nossos dias é a história da luta de classes.” – Karl Marx e Friederich Engels, manifesto do Partido Comunista
Vejamos a “coisa”. O desconstrucionismo aplicado à ideologia política foi utilizado por Karl Marx por herança de Nietzsche e de Engels, que como escreve Noa (“suspeitas epistemológicas”), suspeitava da versão da História tal qual lhe tinha sido transmitida oficialmente, e por isso Marx “desconstruiu” a História no sentido da sua subversão política e interpretativa. Sendo que “a História é sempre escrita pelos vencedores” (Robert Brasillach), Marx sabia-o, e procurou com a aplicação do desconstrucionismo ideológico, a subversão do estatuto histórico dos vencedores e a transformação, por este meio, dos historicamente vencidos em vencedores.
“O perigo seria fazer-se uma História em que o pensamento fosse a mais curta distância entre duas citações de Lenine e de Gramsci.” – Emmanuel Le Roy Ladurie
A contradição do desconstrucionismo ideológico-político é que pretende substituir os vencedores pelos vencidos, continuando a existir, portanto, vencedores que seriam anteriormente e segundo a versão histórica oficial, os vencidos. No fundo, o desconstrucionismo aplicado à ideologia política é uma espécie de “guerra de guerrilha” ideológica com muita propaganda psicológica à mistura, levada a cabo no sentido de cativar a opinião das populações a seu favor, tentando estabelecer um novo conceito de “politicamente correcto”.
“ (A colonialidade literária) (…) trata-se de deslegitimar (…) a hierarquização dos princípios éticos, estéticos, ideológicos e filosóficos que regem o imaginário colonial, em particular, e os discursos hegemónicos, em geral.
Para todos os efeitos, o processo de legitimação da literatura colonial, tal como acontecerá com as grandes narrativas da modernidade, expressão triunfante (ou não será derrotista?) do sujeito e da Razão ocidentais, produz no interior do seu próprio discurso os embriões, se não da sua desagregação, pelo menos da sua transfiguração. A prová-lo estão as estratégias que, na sua fase mais avançada, denunciam a orientação (re) legitimadora do romance colonial.” – Francisco Noa, “Império, Mito e Miopia”
Faço notar que, num pequeno trecho, Noa conjuga várias vezes o verbo “legitimar” e derivados, o que vai ao encontro do que eu disse acima sobre a preocupação de eleger, legitimando, os novos “vencedores” para esta história.
O que Francisco Noa quis dizer aqui é que a literatura colonial adoptou um desconstrutivismo (ou desconstrucionismo) cultural que sub-repticiamente afirmava valores que diferiam dos impostos pelo politicamente correcto colonial em vigor, fruto do contacto com uma realidade social e cultural diferente da europeia. Segundo Noa, a literatura colonial “desconstruiu”, sob o ponto de vista cultural, o politicamente correcto europeu e colonial.
Não concordo com a ideia. Na minha opinião, o que a literatura colonial promoveu foi a “mestiçagem” cultural, mais tarde bem expressa em textos de Craveirinha e de outros, o que não significa necessariamente a existência de embriões de “desagregação” da cultura que lhe esteve na origem (pelo contrário!), tão pouco a sonegação do “sujeito e da Razão ocidentais”. Em oposição ao conceito de “mestiçagem” cultural, Noa assume uma posição de dicotomia histórica e cultural desconstrucionista entre vencedores e vencidos.
++++++++
Os ultra-conservadores portugueses chamam à guerra de guerrilha nas ex-colónias de “Guerra Colonial”, ou “Guerra do Ultramar”. A esquerda marxista (desconstrutivista) portuguesa e europeia, à semelhança dos independentistas africanos, chamam-lhe de “Guerra de Libertação” ou “Guerra de Independência”. De um lado e doutro, a semântica politicamente correcta assume um papel fundamental na desconstrução ideológica e na declaração oficial dos vencedores da História.
Como cidadão português, e partilhando uma visão histórica nacional, chamo-lhe “Guerra de África”, e penso que seria assim que deveria ser denominada nos manuais escolares em Portugal, não só porque não existiu uma outra “Guerra de África” anterior na História Portuguesa (pelo menos com idêntica intensidade e duração, e na medida em que as guerras em Marrocos no tempo de D. Afonso IV a D. Sebastião referem-se expressamente a “Norte de África”), como pela simples razão de que o colonialismo não acabou nos novos países nascidos das colónias portuguesas, sendo substituído pelo neocolonialismo americano, russo, chinês e da Europa do norte. Falar-se em “guerra colonial”, ou em “guerra de libertação”, é uma falácia, porque a “libertação” foi substituída por um outro tipo de opressão e de segregação à distância, e o colonialismo não acabou.
“O tempo faz mais convertidos do que a Razão.” – Thomas Paine
Uma achega final sobre o texto de Noa e sobre o documentário de Joaquim Furtado na RTP:
O Modernismo é marcado pelo “Fim da História”, proclamado por Karl Marx – o mesmo que “suspeitou” da História tal qual lhe tinha sido contada. Marx “desconfiou” da versão da História vigente no seu tempo, desconstruiu-a, virou-a ao avesso, e a seguir proclamou que a História tinha acabado, e que, depois dele (Marx), já nada mais se passaria de relevante. Seria como se um árbitro de um jogo de futebol não gostasse de uma das duas equipas em jogo, marcasse um penalty contra essa equipa aos cinco minutos da primeira parte, e marcado o golo, apitasse para o fim do jogo.
A “Guerra de África” surge no início do Pós-modernismo, que é marcado pela sociedade de consumo ocidental (fim dos anos cinquenta, princípio dos anos sessenta do século XX). O Pós-modernismo traduz a capacidade de escolha introduzida pela sociedade de consumo, e a relativa afirmação do descontrutivismo derridiano é uma consequência dessa diversificação cultural que abre a sociedade a novas interpretações históricas. Afinal, longe de a História ter acabado, a visão histórica desconstrucionista/marxista passou a ser apenas uma das interpretações possíveis e adoptadas.
Em 1989, o ideólogo neoliberal hayekiano Francis Fukuyama “escandalizou” o mundo ao afirmar que a queda do Muro de Berlim era a prova de que a utopia liberal, na iminência de se realizar, marcava o culminar da evolução histórica e ideológica da humanidade. Com a utopia liberal, a História, no sentido Hegeliano, teria chegado ao fim porque se teria alcançado a perfeição, e a verdade humana teria, finalmente, sido reconhecida na realidade.
Depois de Marx, Francis Fukuyama, e em nome de Hayek já morto, declara novamente o “Fim da História” – e a malta já começa a ficar cansada de tantos finais para a História.
O marxismo cultural, que viveu “adormecido” no Ocidente desde os anos 20 e só ganhou importância social e cultural nos finais da década de 60 (exactamente fruto da abertura proporcionada pelo Pós-modernismo), substituiu o marxismo-leninismo na oposição ideológica ao neoliberalismo, o que acontece hoje.
Da actual corrente ideológica marxista cultural fazem parte os ecologistas que defendem que os africanos não devem ter acesso à energia eléctrica e ao petróleo em nome da Ecologia, defendem o aborto livre, a eutanásia dos idosos e o infanticídio como forma de reduzir a população do planeta, isto é, adoptam o Utilitarismo (adaptado ao nosso tempo) como filosofia de base na defesa dos seus princípios ideológicos. Fazem parte do marxismo cultural os movimentos homossexuais, socialmente minoritários, mas que aliados aos ecologistas reclamam a homossexualidade como uma “forma de expressão sexual” consentânea com a teoria de Malthus, e adequada a um planeta com uma população controlada (tudo em nome da Ecologia, naturalmente).
Como escreveu Goya, “o sono da Razão cria monstros”, e o desconstrucionismo derridiano deu nisto.
Hoje, todas as ideologias tendem a ser substituídas por um Presentismo Histórico politicamente correcto. O Presentismo é uma forma moderna de colonialismo aplicado também aos povos europeus e ocidentais, consiste na obliteração das histórias nacionais em nome de uma construção colonial supra-nacional de uma versão da “História” que facilite o controlo dos povos do mundo. Contribuem para o Presentismo Histórico o relativismo moral e ético desconstrucionista, o marxismo cultural e o neoliberalismo económico libertário hayekiano – tudo metido no mesmo saco (o que parece um contra-senso). Um dia destes, alguém virá anunciar novamente o “Fim da História”, em nome do Presentismo Histórico politicamente correcto – mas a malta já está acostumada, já nem liga a isso.
É neste contexto dicotómico que se insere o documentário de Joaquim Furtado, e porque a História não acaba quando um megalómano qualquer decreta o seu fim, o tempo encarregar-se-á de convencer a maioria de que o Império Português nada mais foi que um encontro de culturas que aproveitou a todos.


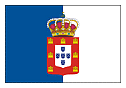







Assino com as duas mãos, e viva o V Império pessoano.
GostarGostar
Comentar por Henrique — Sábado, 20 Outubro 2007 @ 2:49 pm |
Concordo até certo ponto com a sua versão de marxismo cultural, enquanto nouva leitura das minorias sociais, contudo ao tentar-se resumir somente as minorias marxianas em ecologias contra-capitalistas e malthusianas remete-nos a um reducionismo cultural pessimista no qual as críticas em relação as contrariedades dessas mesmas minorias não possam tomar lugar.
É justo começar e reintroduzir o pos-modernismo, contudo existe uma necessidade de um olhar diferenciado e pouco céptico em relação aos mecanismos de produção e reprodução cultural, ou seja, confrontar as reais metanarrativas capitalistas/ocidentais/consumistas com as micronarrativas pós-coloniais/socialistas/pobres.
GostarGostar
Comentar por Gerson Machevo — Terça-feira, 5 Janeiro 2010 @ 8:49 am |