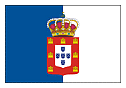A filosofia da ciência necessita de filósofos sérios, de gente honesta. Não é o caso de Ben Dupré, que a professora Helena Serrão cita aqui.
 No referido texto, o dito cujo começa por dizer que o universo “tende para o infinito”. O verbo “tender” significa que, a priori, não há certeza (científica) de que o universo é infinito, ou não. “Tender” significa “possibilidade”, ou “verosimilhança”.
No referido texto, o dito cujo começa por dizer que o universo “tende para o infinito”. O verbo “tender” significa que, a priori, não há certeza (científica) de que o universo é infinito, ou não. “Tender” significa “possibilidade”, ou “verosimilhança”.
Porém, mais adiante no mesmo texto, o cujo dito já diz que “Deus não se cansa de fazer as coisas sem fim” — assumindo agora que o universo já é infinito. É a “evolução” moderna da lógica.
Ou seja, o Ben Dupré tende para a estupidez, o que, na “lógica” dele, significa que ele é, de facto, estúpido.
É necessária muita fé para acreditar que, em um universo em que “há um padrão de coisas existentes” (sic) e em que “há leis de causa / efeito produzidas pela própria natureza da matéria” (sic) — todo esse universo não tem qualquer Causa.
Só um idiota contemporâneo, travestido de filósofo, teria tanta fé. É preciso ter mais fé para acreditar num mundo ordenado mas desprovido de qualquer Causa, do que a fé necessária para acreditar em Deus.

Bacon escreveu que “desde que o homem percebe um pouco de ordem nas coisas, supõe imediatamente muito mais”.
E Einstein escreveu o seguinte [“Wörte in Zeit und Raum”, 1999, p92]:
“¿Acha estranho que se considere a compreensibilidade do mundo como milagre ou como mistério eterno?
Na realidade, a priori, deveria esperar-se um mundo caótico que não se pode compreender, de maneira alguma, através do pensamento. Poderia (aliás, deveria) esperar-se que o mundo se manifeste como determinado, apenas na medida em que intervimos, estabelecendo ordem. Seria uma ordem como a ordem alfabética das palavras de uma língua. Pelo contrário, a ordem criada, por exemplo, pela teoria da gravidade, de Newton, é de uma natureza absolutamente diferente. Mesmo que os axiomas da teoria sejam formulados pelo ser humano, o sucesso de um tal empreendimento pressupõe uma ordem elevada do mundo objectivo, que, objectivamente, não se podia esperar, de maneira alguma.
Aqui está o “milagre” que se reforça cada vez mais com o desenvolvimento dos nossos conhecimentos. Aqui está o ponto fraco para os positivistas e os ateus profissionais.”
Mais adiante:
“A ciência só pode ser feita por pessoas que estão completamente possuídas pelo desejo de verdade e compreensão. No entanto, esta base sentimental tem a sua origem na esfera religiosa. Isto inclui também a confiança na possibilidade de que as regularidades que valem no mundo do Existente sejam razoáveis, isto é, compreensíveis à Razão. Não posso imaginar um investigador sem esta fé profunda. É possível exprimir o estado das coisas através de uma imagem: a ciência sem religião é paralítica, a religião sem ciência é cega” (idem).
O que é espantoso não é a fé do idiota Ben Dupré: é o facto de a professora Helena Serrão o citar acriticamente amiúde. Citar um idiota deste calibre, de forma acrítica, certamente não beneficia os alunos dela.
 Eu estudei a História da Filosofia Ocidental, da autoria de Bertrand Russell. Sublinho: estudei; e há muito tempo. Estudar um livro é diferente de lê-lo. Tenho duas edições do dito livro: uma, para colocar na estante, impecável, sem pó; e outra, para rabiscar e sublinhar, desconjuntado. Normalmente é assim que faço: compro dois exemplares dos livros de filosofia.
Eu estudei a História da Filosofia Ocidental, da autoria de Bertrand Russell. Sublinho: estudei; e há muito tempo. Estudar um livro é diferente de lê-lo. Tenho duas edições do dito livro: uma, para colocar na estante, impecável, sem pó; e outra, para rabiscar e sublinhar, desconjuntado. Normalmente é assim que faço: compro dois exemplares dos livros de filosofia.